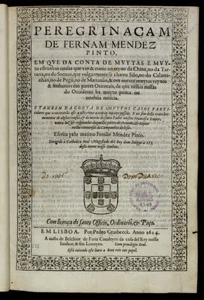Até 5 de janeiro o British Museum, em Londres, apresenta a exposição "Shunga: Sex and Pleasure in Japanese Art". Pude comprovar que é uma exposição fantástica, que torna o erótico mainstream, visto sem pudor nem culpa num dos melhores museus do mundo. O British já possuía algumas obras deste género, mas para esta exposição conseguiu reunir muitas mais, vindas de todas as partes do mundo.
Como muitos outros aspectos da sociedade japonesa, esta arte começou por ser uma influência chinesa, da qual os japoneses se apropriaram e tornaram sua com distinção. Originalmente os chineses referiam-se às suas pinturas eróticas como chun-hua e estas existiam já desde o século VI. Mas enquanto na China elas se moviam num mundo aristocrático e com um propósito didático e não hedonista, maioritariamente manuais sexuais dedicados a homens que pretendiam conservar a sua vitalidade e melhorar a sua saúde, os japoneses estavam sobretudo preocupados com o prazer e, de certa forma, com o alcance de satisfação sexual através da arte.
Shunga, donde muito provavelmente deriva a nossa palavra chunga, é uma arte japonesa, que apesar de remontar ao período Heian (século VIII a XII) se desenvolveu sobretudo com a corrente do ukiyo-e e o seu "mundo flutuante" (por volta do século XVII, já no período Tokugawa) mas vocacionada para a representação de cenas eróticas. Ordinárias, para o padrão daqueles primeiros visitantes portugueses (e outros europeus) que lhes puseram os olhos em cima. O que acontece é que na Ásia o acto sexual era visto de uma forma normal, passível de ser retratado em pinturas constantes de livros, almanaques médicos ou de outras publicações de auto-ajuda.
Os livros onde estas cenas apareciam eram comprados por todas as classes e tinham diversos objectivos, que não só o de proporcionar prazer a quem os visse. Tinham igualmente um carácter educativo, de mostrar aos recém-casados como as cenas de alcova decorriam. E mostrá-lo tanto a homens como mulheres. O que vemos é que estas pinturas eróticas, a maioria delas apresentadas em livros, tinham para além de um carácter prazeroso e didático, também um conteúdo político, satírico e cheio de humor. Sempre sem perder a sua qualidade artística.
Atentemos a grande cena do grande Hokusai com o polvo grande a copular com a mulher, enquanto o polvo pequenino envolve os seus lábios, isto é, boca.
Outro grande, como Utamaro, foi vítima de censura política no período Tokugawa por não ter evitado nomear os grandes enquanto os satirizava.
Existia ainda a sátira de obras de literatura médica e de clássicos, recriando-se novas versões com o recurso ao imaginário shunga. Na exposição podemos ver ambas as obras, a original e a imaginativa e humorada recriação.
Era tão banal que quase todos os artistas dos séculos XVII e XVIII, incluindo os melhores, se dedicaram à arte shunga. E com um refinamento tal, que as obras presentes na exposição do British nos encantam totalmente.
As pinturas mostram em detalhe órgãos genitais, quer os dele quer os dela, absolutamente exagerados. Poucas mostram os casais completamente nus. No ocidente a nudez era uma forma, discreta de se aludir ao sexo. Já no Japão, a representação de figuras muito vestidas enquanto praticam os actos sexuais mostra que a nudez nunca foi aí encarada como erótica e mostra ainda que a preocupação dos artísticas era também a técnica ao retratarem as vestes, muitas vezes de forma exuberante, mas sempre definidoras da classe social dos sujeitos em causa.
As cenas são maioritariamente de homens e mulheres em pares, mas existem alguns trios, outras com espectadoras discretas atrás de cortinas ou biombos, outras homossexuais, incluindo duas mulheres com brinquedos. Na esmagadora quase totalidade as cenas são de sexo consensual. E as mulheres aparecem, tal como os homens, a gostar do acto.
A arte shunga acabou por decair à medida que os ocidentais foram forçando a abertura do Japão, durante a segunda metade do século XIX, e trouxeram consigo os seus padrões morais e artísticos de modernidade, os quais viam esta arte como obscena. Os próprios lideres japoneses, preocupados agora em seguir os passos da modernidade ocidental, encararam esta arte como obsoleta, parte das tradições que se queriam abater. Felizmente, no entanto, a arte shunga chegou aos nossos tempos e hoje podemos apreciá-la por inteiro, seja com os propósitos que os japoneses de séculos passados usaram, seja apenas para aplaudir e emocionarmo-nos com a variedade de obras artísticas que estes nos legaram.