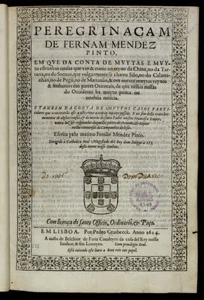Os séculos XIII a XVI viram emergir no sub continente indiano
uma série de reinos regionais. Nomes
como Mahmud Ghazni e Muhammad Ghuri iniciaram o domínio turco e afegão, estabelecendo-se na região de Delhi, uma posição estratégica que lhes permitia o acesso quer ao Vale do Ganges como
à Índia Central e Ocidental. O Decão seria, no entanto, o maior obstáculo à ideia de império.
A norte o
sultanado
de Delhi
imperava, quer fosse com os Khaljis, Tughluqs, Sayyids ou Lodis, assistindo-se
ainda a raids mongóis e timúridas. Ibn Batuta,
o viajante marroquino do século XIV, passou por lá e relatou o que viu e viveu durante o reinado dos
Tughluqs.
Mais a
sul assistia-se à rivalidade entre os
Bahmanidas, muçulmanos, e os de Vijayanagara,
hindus. Famosa ficou a Crónica dos Reis de Bisnaga, por
Domingo Paes, no século XVI. Este último reino atingiu um grande nível de urbanização, comercialização e monetarização e foram como que os
predecessores do estado Maratha criado no século
XVII. Ainda hoje a sua arquitectura pode ser apreciada em Hampi.
Até que em 1526 uma nova força
toma Delhi e viria a formar um império que reinaria grande parte
do sub continente, destronada mais tarde pelos britânicos, os quais, esses sim, haviam de estender o seu domínio a todo o sub continente. Os Mogóis viram o seu império fundado por Babur, após decisivas batalhas contra os afegãos. Reclamavam a sua ascendência
de Genghis Khan e de Timur, dois grandes guerreiros. Sucederam a Babur o seu
filho Humayun (em Delhi perdura ainda hoje o mausoléu que a sua mulher mandou erigir em sua memória, costume que atingiria o seu apogeu com o Taj Mahal) e
o seu neto Akbar.
Akbar, o grande, nasceu na Índia
sob protecção hindu. Para Akbar os
indianos não eram uma massa inculta de infiéis que horrorizaram Babur, eram antes seus compatriotas.
Nessa sequência, Akbar levantou medidas
discriminatórias para com os hindus, como
a taxa dos peregrinos ou a jizya, e tomou medidas liberais. Com ele começou a ser criado um império pan indiano, com os mogóis (muçulmanos) a assegurarem os
serviços de uma respeitada elite e
os rajputs (hindus) a ganharem acesso a altos graus. O seu reinado foi marcado
pela tolerância religiosa e pela expansão. Com a conquista do Gujerate Akbar entrou em contacto com
os padres portugueses.
O sucesso
Mogol devia-se em grande parte à abundante força trabalhadora que gerava excedente, o factor da grande
estabilidade do regime. Também o comércio internacional ajudou. O governo era autocrático e a opulência inimaginável.
A
arquitectura atingiu níveis de excelência com a construção do Taj Mahal por Shah Jahan,
filho de Jahangir, neto de Akbar. Com estes dois descendentes de Akbar
assistiu-se a um período de paz interna,
desenvolvimento económico e crescimento cultural.
Pelo
contrário, com Aurangzeb (1658-1707)
o império Mogol entraria em
conflitos. Se por um lado atingiu a sua máxima extensão durante o seu reinado, foi com o último grande imperador Mogol que o conflito cresceu em
diversas esferas: política, religiosa, com estagnação cultural e declínio económico. Aurangzeb, ao contrário
dos seus antecessores, não gostava de ostentação e a sua vida pessoal era marcada pela simplicidade.
Proibiu a construção de novos templos hindus e
colocou ênfase na posição superior dos muçulmanos. Aventurou-se na
conquista do Decão, derrotando os sultanados de
Golconda e Bijapur, mas lá encontrou a difícil oposição dos Marathas, força regional hindu que vinha em crescendo no fim do século XVII.
Depois da
morte de Aurangzeb entrou-se num período de guerras de sucessão, com a emergência de estados regionais e
invasões estrangeiras. Os Marathas
ganharam força, muito graças à instituição do Peshwa e sua visão centralista.
Mas
seriam os ingleses a levar o centralismo a uma nova forma: a colonial.
A sua
ascensão, com a criação da Companhia das Índias Orientais, foi em grande
parte motivada pelo crescimento exponencial do comércio no século XVIII, sobretudo pelo comércio com a China (seda e chá),
depois pelos tecidos da Índia.
Há quem defenda que as conquistas britânicas na Índia foram fortuitas, que
vieram a ocupar o vacum de poder derivado do declínio
Mogol, não tendo havido nenhum regime
nativo que emergisse para preencher este buraco. A autoridade fragmentada, bem
como o declínio económico e a lei fraca quer de afegãos quer de marathas teriam ajudado. Mas há quem defenda ainda que esse caos e vacum teriam sido criação da Companhia das Índias Orientais. Reais eram as
ambições expansionistas britânicas.
Foi
estabelecida uma nova capital em Calcutá e houve que adaptar-se a uma
realidade da qual pouco mais se sabia do que questões comerciais, sendo que os britânicos praticamente não se tinham aventurado para além dos enclaves costeiros. Assistiu-se a um certo interesse
pelas matérias orientalistas, com o
estudo de textos originais em sânscrito e arábico, e criação da Asiatic Society of Bengal
em 1784.
Os britânicos procederam à organização de um eficiente exército militar, com
recrutamento entre as mais altas castas de agricultores hindus, preocupando-se,
assim, em acomodar as sensibilidades de casta e religiosas no exército.
Viria a
assistir-se a um imperialismo agressivo, produto das vitorias britânicas sobre Napoleão, com cada vez mais e mais
territórios incluídos no império britânico, inclusive os Marathas.
Os
indianos foram confrontados com a modernidade e depois do interesse inicial
pelo comércio este dará lugar à criação de estruturas políticas, judiciais e fiscais
cada vez mais burocratizadas. Do ponto de vista económico, a revolução industrial que estava a
acontecer na Europa leva a que as máquinas embarateçam os custos de produção, tornando mais competitivos os produtos que se
ia buscar à Índia. Do ponto de vista cultural, a admiração inicial pelas culturas indianas foi substituída por uma crescente imposição
do inglês e da cultura inglesa, com
defesa de uma educação à europeia para todos os povos. No que uns viam caminho rumo
à modernidade, outros viam
ingerência (como é o caso da abolição do sati - o ritual das viúvas indianas que se imolavam na pira do marido).
Em 1858 a
Companhia das Índias Orientais foi abolida e
a Índia passa a ser governada
directamente pela Coroa até 1947, período este que ficou a ser conhecido como Raj. O fim da
Companhia deveu-se à Revolta dos Cipaios, um motim
indiano que não foi apenas um acto de
soldados descontentes, antes a resposta a múltiplas
queixas como as políticas culturais britânicas, a severidade da avaliação
das receitas e a degradação das elites terratenentes e
principescas. Para além de que ao exército composto por indianos era pedido que servissem fora
da Índia (receio dos soldados de
poluição por atravessar o mar e lidar
com indivíduos de castas mais baixas).
Mais, a introdução da nova espingarda Enfield,
cujos cartuchos estavam revestidos por uma camada de gordura tanto de porco
como de vaca, os quais tinham de ser abertos com os dentes, era ofensiva quer
para muçulmanos quer para hindus.
Na
realidade o poder britânico era frágil e havia que mudar algo. A Rainha Vitoria viria a ser
aclamada como imperatriz da Índia em 1877 no Durbar
celebrado em Delhi. As bases do novo sistema britânico
eram as seguintes: fazer das famílias reais a elite natural da Índia, usando como modelo a sociedade da aristocracia
inglesa, as quais teriam uma câmara própria; criação de novas estruturas
administrativas; reforma nas estruturas militares.
Mas
assistir-se-ia a uma transformação política na Índia com o aparecimento de uma
corrente nacionalista, primeiro algo difusa e depois mais coerente. A imprensa
foi importante para a luta do nacionalismo. Dá-se,
então, início à contestação indiana face à presença britânica, através de uma elite nacionalista sobretudo urbana. Em 1885 reúne-se em Bombaim o primeiro Congresso Nacional Indiano, o
qual verbalizou o descontentamento indiano como meio de exprimir as reivindicações nacionalistas indianas. A visão do Congresso insistia que os interesses do eu, casta e
comunidade ficassem subordinados ao bem comum e à
nação indiana. Nos primeiros
tempos não questionou a continuação do governo britânico, queriam antes mais
participação no conselho legislativo e
uma genuína abertura do serviço civil indiano aos indianos. Pediam reformas. E desejavam
trabalhar sobre a opinião pública. Mas não conseguem atrair os muçulmanos.
O
movimento swadeshi, passado à Índia por panfleto, imprensa e boca a boca, representava
unidade e uma acção efectiva materializada no
boicote à indústria britânica, sobretudo aos têxteis, e boicote às instituições governamentais de ensino.
Após a I Grande Guerra Mundial, na qual os indianos
participaram, o descontentamento cresce e os nacionalistas pedem o Swaraj, o
auto governo.
Entra em cena pela primeira vez Gandhi e as suas campanhas de
resistência pacífica, o satyagraha, ou força
da verdade, mediante boicotes, petições e actos de desobediência civil.
Os britânicos, também cansados com a guerra, lançam mão de um sistema de diarquia,
dividindo as funções do governo em dois, um pelo
governo central em Delhi sob controlo britânico, outro pelas províncias com algumas áreas como agricultura e educação e taxas. Mas os britânicos cometem um erro crasso
ao emitirem o Rowlatt Act em 1919,
prolongando as restrições às liberdades fundamentais, como a detenção e julgamento sem júri. Esta intenção de aplicar a continuação
de um estado de excepção cria hostilidade entre os
indianos. Em sequência de mais uma década de luta, com o recurso a movimentos de desobediência civil, os indianos deixariam de discutir o autogoverno
para passarem a pedir a independência total, o Purna Swaraj. As
próximas décadas seriam dedicadas tanto a evitar os britânicos e ajustar-se a um mundo pós-colonial, como a tentar decidir a futura composição política do subcontinente entre
Congresso e Liga Muçulmana. A clivagem inter
comunitária e religiosa acentuava-se e
seria aproveitada pelos britânicos para dividir ainda mais.
Ao contrário do Congresso, que possuía uma organização já implantada, os muçulmanos estavam dispersos por
uma série de partidos e a Liga não só não tinha um programa político
claro como também não tinha um líder incontestado. Até que apareceu Jinnah, que juntamente com o hindu Nehru
seriam as grandes figuras da independência indiana e da criação dos dois estados impendentes que foram criados após a atabalhoada e apressada partição em 1947. O Quit India deu resultado e Nehru pode fazer o
seu célebre discurso a 15 de Agosto
de 1947:
"Long
years ago, we made a tryst with destiny. Now the time has come when we shall
redeem our pledge - not wholly or in full measure - but very substantially. At
the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to
life and freedom. A moment comes, but rarely in history, when we step out from
the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long
suppressed, finds utterance."